Cultura, branquitude, espetáculo e disputa por influência na América Latina
A presença de Bad Bunny como atração principal do intervalo do Super Bowl foi amplamente celebrada como sinal de diversidade e reconhecimento cultural. Uma leitura estrutural, no entanto, indica que o episódio deve ser compreendido menos como inclusão e mais como dispositivo da economia política da cultura, articulado à geopolítica contemporânea, à financeirização do esporte e a um regime sofisticado de gestão racializada de mercados.
O esporte nacional dos Estados Unidos – historicamente associado à identidade branca, masculina e anglófona – não “cedeu espaço” ao espanhol por abertura cultural. Fez isso porque a população latino-americana, dentro e fora dos EUA, tornou-se economicamente estratégica. Trata-se de captura de público, não de redistribuição de poder. A cultura entra em cena quando deixa de ser ameaça e passa a ser ativo.
Essa dinâmica está diretamente ligada à estratégia da NFL de globalizar um esporte profundamente regional, expandindo sua base de consumidores para além do território norte-americano. Em tempos de bets, apostas esportivas, monetização de dados e publicidade algorítmica, o futebol americano deixa de ser apenas jogo e se consolida como infraestrutura financeira. Não por acaso, trinta segundos de propaganda no intervalo custam milhões de dólares: o halftime show é parte central desse ecossistema.
À luz de Cida Bento, esse movimento expressa a branquitude como regime de gestão da diversidade. Incorpora-se seletivamente a cultura do “outro” sem alterar quem controla a propriedade, as decisões estratégicas e o lucro – ainda concentrados nas mãos de bilionários brancos, inclusive os proprietários das equipes finalistas.
Como já indicava Charles Mills, o multiculturalismo liberal não rompe com o contrato racial; ele o atualiza simbolicamente. A visibilidade passa a funcionar como evidência de justiça, enquanto as assimetrias materiais permanecem intactas.
A maior parte do público branco norte-americano que ocupa as arquibancadas do Super Bowl não fala espanhol, não consome música em espanhol e não se reconhece culturalmente naquele repertório. O show não foi pensado para quem estava no estádio – cujos ingressos, extremamente caros, selecionam um público majoritariamente branco, de alta renda e pouco interessado na performance –, mas para a audiência televisiva global e, em especial, para o mercado latino a ser capturado. A indiferença visível de parcelas das arquibancadas não é um efeito colateral; é parte do arranjo. O espetáculo não visa produzir reconhecimento mútuo, mas circulação de imagem, dados e afetos em escala transnacional. A cultura exibida não precisa ser compreendida por quem detém o espaço físico do evento, desde que seja monetizável para quem se pretende alcançar.
É nesse ponto que a contribuição de Byung-Chul Han se torna particularmente elucidativa. Para Han, vivemos sob um regime do desempenho e da positividade, no qual o poder opera menos pela repressão e mais pela sedução, pela exposição e pelo espetáculo. A cultura, nesse contexto, é transformada em mercadoria emocional de alto rendimento. O excesso de visibilidade não emancipa; ao contrário, neutraliza o conflito, dissolve a negatividade e converte a crítica em consumo.
O halftime show exemplifica essa lógica: a diversidade é exibida como imagem positiva, circulável e compartilhável, enquanto as estruturas de dominação permanecem fora de cena. Trata-se de uma forma de poder que não silencia, mas fala demais, que não exclui frontalmente, mas integra sem transformar. A cultura latino-americana aparece como performance global, desprovida de capacidade disruptiva.
Essa operação simbólica ganha contornos ainda mais claros no plano geopolítico. Em um cenário de crescimento expressivo da presença econômica chinesa na América Latina, os Estados Unidos reativam instrumentos clássicos de soft power. O esporte e o entretenimento funcionam como tecnologias de influência, capazes de produzir pertencimento, afetos e alinhamentos simbólicos. Criar a sensação de “comunidade hemisférica” também implica fabricar fronteiras: quem pertence e quem ameaça.
Nesse processo, populações latino-americanas podem ser simultaneamente consumidas como mercado e produzidas como inimigas internas. A celebração da cultura convive, sem contradição aparente, com o avanço da xenofobia, com políticas de deportação em massa e com a criminalização de corpos migrantes – independentemente de quem ocupe o governo federal norte-americano.
Como argumenta Sueli Carneiro, o racismo contemporâneo opera por mecanismos sofisticados de normalização da desigualdade, compatíveis com discursos públicos de diversidade e inclusão. A cultura é exaltada; os direitos seguem violados.
Na tradição pós-colonial, Frantz Fanon já descrevia essa cena: o colonizado é convidado a dançar, cantar e entreter, mas não a governar. Achille Mbembe atualiza esse diagnóstico ao mostrar como a celebração cultural pode coexistir com políticas de morte, controle e abandono – um paradoxo central para o campo dos direitos humanos hoje.
Como lembrava Milton Santos, a globalização não universaliza direitos; ela seleciona fluxos. Mercadorias, imagens e culturas circulam. Corpos racializados seguem vigiados, barrados e descartáveis.
Do ponto de vista sociológico, Jessé Souza ajuda a compreender o efeito político desse arranjo: a inclusão simbólica sem redistribuição material opera como legitimação da desigualdade, oferecendo reconhecimento no lugar de justiça.
Como provoca Ailton Krenak, o desafio não é apenas ocupar espaços, mas questionar o próprio jogo, suas regras e o modelo civilizatório que o sustenta.
O intervalo do Super Bowl, assim, revela menos uma vitória cultural e mais um espelho do nosso tempo: diversidade como estética, inclusão como estratégia, cultura como espetáculo — e o poder, mais uma vez, preservado.
Vitor G. Nery é advogado de direitos humanos e supervisor da área de projetos sociais do Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns, da Faculdade de Direito da PUC-SP. É mestre e doutorando em Filosofia do Direito pela PUC-SP. Possui pós-graduação em História da África pelo Centro Universitário Assunção e em Direitos, Desigualdades e Governança Climática pela UFBA.
Referências
BENTO, Cida. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
CARNEIRO, Sueli. Escritos de uma vida. São Paulo: Pólen Livros, 2019.
MILLS, Charles W. O Contrato Racial. Zahar, 2023.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Tradução de Ligia Fonseca Ferreira e.Regina Salgado Campos. Zahar, 2022.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015.
HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Âyiné, 2020.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.
SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.
BISPO, Antônio (Nego Bispo). Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília: INCTI/UnB, 2015.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.







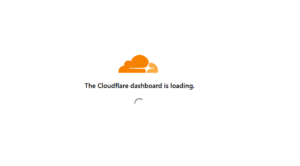







Publicar comentário