o xadrez que ninguém quis ver (e por que o Brasil precisa acordar antes que seja tarde)
Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, enquanto Caracas dormia, o tabuleiro geopolítico do hemisfério ocidental foi alterado de forma definitiva. Em menos de 30 minutos, forças americanas capturaram Nicolás Maduro, retiraram-no de um bunker fortificado e o colocaram em um avião com destino a Nova York, onde será julgado por narcoterrorismo.
As reações foram imediatas e previsíveis. Parte da comunidade internacional gritou “golpe”. Outros falaram em “imperialismo” ou “violação da soberania”. O coro da indignação soou alto — embora seletivo. Para quem vinha acompanhando os movimentos recentes da política internacional, porém, o desfecho estava longe de ser inesperado.
Nos últimos meses, artigo após artigo, esse cenário vinha sendo desenhado. Em A Fortaleza Americana, foi analisado o reposicionamento estratégico dos Estados Unidos. Em A Grande Fratura, mapeou-se o colapso do eixo China–Rússia e suas consequências hemisféricas. Trump foi analisado não como um showman errático, mas como um estrategista com objetivos claros, apontando para uma inflexão dura na política externa americana. O que ocorreu naquela madrugada não foi improviso; foi execução. A questão central, agora, é outra: o Brasil está entendendo o que aconteceu?
Continua depois da publicidade
Para compreender o episódio, é preciso separar fatos de narrativas. Hugo Chávez chegou ao poder em 1998 por meio das urnas, mas utilizou a própria flexibilidade do sistema democrático para subvertê-lo por dentro. Reescreveu a Constituição, aparelhou o Judiciário, subordinou as Forças Armadas e transformou a Venezuela em um laboratório de autoritarismo de esquerda. Quando morreu, em 2013, Nicolás Maduro herdou essa máquina — e a aperfeiçoou.
Sob seu comando, o regime cruzou definitivamente a linha. As eleições de 2024 foram fraudadas diante do mundo. María Corina Machado, líder da oposição e hoje laureada com o Nobel da Paz, foi impedida de concorrer. Candidatos oposicionistas foram presos, jornais fechados, juízes perseguidos, presos políticos torturados. Ao mesmo tempo, quase 8 milhões de venezuelanos — cerca de 30% da população — foram forçados a deixar o país, produzindo a maior crise migratória da história das Américas.
Paralelamente, o Estado venezuelano foi capturado por estruturas do narcotráfico internacional. Maduro é indiciado nos Estados Unidos desde 2020 por envolvimento com o Cartel de los Soles. Não havia mais caminho democrático disponível. As instituições foram sendo fechadas uma a uma. Diante disso, a pergunta incômoda permanece: é golpe remover quem já havia dado um golpe contra a própria democracia?
Continua depois da publicidade
Ainda assim, reduzir a Venezuela à figura de Maduro é perder o essencial. O país havia se transformado em uma encruzilhada estratégica para os principais adversários dos Estados Unidos. A Rússia fornecia armas e sistemas de defesa. O Irã firmava acordos de cooperação tecnológica. O Hezbollah mantinha células operacionais documentadas. Cuba oferecia inteligência e proteção pessoal ao ditador. Acima de todos, a China integrava a Venezuela à Belt & Road Initiative, garantindo acesso a petróleo e minerais estratégicos e estabelecendo uma cabeça de ponte no hemisfério ocidental.
Nesse contexto, a Venezuela funcionava como peça avançada de um jogo maior, permitindo a projeção de poder chinês, a desestabilização regional, o financiamento do narcotráfico e o uso da imigração como instrumento de pressão geopolítica. Durante anos, esse processo ocorreu sem provocar grande comoção internacional. A indignação só surgiu quando os Estados Unidos removeram a peça do tabuleiro.
Os críticos argumentam que Washington deveria ter esperado a ONU ou respeitado a autodeterminação dos povos. Mas que ONU seria essa? O Conselho de Segurança paralisado pelos vetos de China e Rússia? A mesma instituição incapaz de impedir massacres, invasões ou repressões flagrantes ao longo das últimas décadas? E que autodeterminação existe quando eleições são fraudadas, opositores são presos e a alternância de poder é eliminada? Muitas vezes, a defesa abstrata de princípios serve apenas como biombo moral para a inação.
Continua depois da publicidade
A realidade é menos confortável. A política internacional não é regida por boas intenções, mas por poder. A história do século XX já demonstrou que democracia e comércio não eliminaram os conflitos. Como escreveu Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. Quando o diálogo falha e a assimetria se torna insustentável, a força entra em cena — não porque seja desejável, mas porque é real.
Os precedentes são numerosos. Barack Obama ordenou a morte de Osama bin Laden e foi celebrado. No mesmo período, lançou dezenas de milhares de bombas em diversos países sem autorização do Congresso americano. Bill Clinton bombardeou a Sérvia, redesenhou fronteiras e foi tratado como humanista. Trump, por sua vez, capturou um narcoditador vivo para ser julgado e passou a ser retratado como bárbaro. A hipocrisia não é exceção; é método.
Do ponto de vista militar, a operação deixou uma mensagem inequívoca. Em menos de meia hora, sistemas de defesa russos — os famosos Buk-M2 — foram neutralizados, forças especiais americanas atuaram com precisão cirúrgica e Maduro foi retirado do país sem um banho de sangue. Segundo os governos da Venezuela e de Cuba, 32 militares cubanos morreram durante a operação. Do lado americano, não houve baixas.
Continua depois da publicidade
A CIA havia infiltrado agentes na Venezuela cinco meses antes. Sabiam onde Maduro dormia, o que comia, para onde viajava, quem eram seus seguranças e quantos cubanos protegiam seu perímetro. Quando a Delta Force invadiu o quarto de Maduro, às 2 da manhã, ele tentou correr para seu safe room, com portas de aço reforçado. Não houve tempo. Às 3h29, já estava fora da Venezuela. Às 4h29, a bordo do USS Iwo Jima. À tarde, desembarcava em Nova York.
A operação tem paralelos claros com ações recentes de Israel contra o Hamas e com bombardeios americanos no Irã. A mesma precisão cirúrgica. A mesma superioridade tecnológica. A mesma mensagem: não há bunker seguro, não há guarda que proteja, não há sistema de defesa que funcione.
A demonstração de supremacia tecnológica e operacional não foi dirigida apenas à Venezuela, mas também à China, à Rússia, ao Irã e a seus aliados. Não há refúgio inviolável, nem sistema de defesa infalível.
Continua depois da publicidade
Leia mais:
Essa lógica ajuda a entender outra crítica recorrente: a de que tudo se resumiria ao petróleo. Sim, o petróleo está no centro da questão — mas como arma estratégica, não como espólio econômico. Durante anos, ninguém se indignou quando a China passou a controlar parte significativa do petróleo venezuelano. A reação só veio quando os Estados Unidos impediram que esse recurso continuasse sendo usado contra seus interesses. Energia, no século XXI, é poder.
O episódio marca, na prática, o renascimento da Doutrina Monroe. Desde 1823, a política externa americana parte do princípio de que potências externas não devem estabelecer bases de influência no hemisfério ocidental. O que parecia uma relíquia histórica voltou ao centro do jogo. A mensagem é clara: alianças hostis na região não serão mais toleradas.
É nesse ponto que o Brasil entra na equação. O governo Lula condenou o uso da força e defendeu uma solução negociada. O problema é que essa negociação havia sido esvaziada há décadas. Durante anos, o Brasil optou pela ambiguidade, relativizou fraudes eleitorais e manteve proximidade com o regime venezuelano. Agora, o custo dessa postura começa a aparecer.
A geopolítica não se comove com notas diplomáticas. O recado enviado de Caracas é direto: o tempo da ambiguidade acabou. Países que flertam com alianças antiamericanas terão de recalcular. Ignorar essa mudança não a tornará irrelevante.
Há, ainda, um alerta mais profundo. Democracias corroídas por dentro — onde instituições são capturadas, opositores criminalizados e a alternância de poder inviabilizada — entram em uma zona de risco. A Venezuela é um exemplo extremo, mas não isolado. Olhá-la apenas como notícia internacional é perder a função do aviso.
O ciclo político que se inicia na América Latina aponta para uma inflexão. A esquerda regional perdeu seu principal modelo de referência. O impacto desse movimento chegará ao Brasil, inclusive nas eleições de 2026. Candidatos que compreenderem a nova realidade internacional terão vantagem. Os que insistirem em narrativas do século passado tendem a ser atropelados.
O Brasil não precisa de alinhamento automático com os Estados Unidos, mas também não pode se iludir com uma neutralidade impossível. Em um mundo que voltou a operar por zonas de influência, não escolher é, na prática, escolher ser irrelevante.
O tabuleiro mudou. As peças estão sendo reposicionadas. As consequências, inevitavelmente, virão.






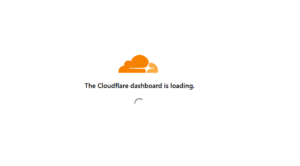







Publicar comentário